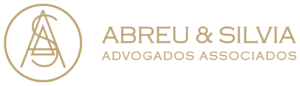A doutrina, de um modo geral, se divide quando em pauta as lacunas da Constituição e a forma de sua integração, parte entendendo que a Constituição representa um sistema completo e perfeito, inadmitindo lacunas ou a necessidade de integração; outra parte, mais realista, a qual se agrupam Brasil e Portugal, apontando a impossibilidade de se construir esquemas constitucionais bastante em si, dado o caráter dinâmico da vida, a afastar a possibilidade de a tudo prever.
Aliás, “basta pensar no costume constitucional praeter legem, na expressa integração pela Declaração Universal dos Direitos do Homem (art. 16º, nº 2) [caso de Portugal] e na devolução para a lei ordinária e para as regras de Direito internacional a previsão de direitos fundamentais afora os contemplados na Constituição (art. 16º, nº 1)”, para se ter a ideia de que a lei constitucional “não regula tudo quanto dela deve ser objeto”[1], tanto quanto da inevitabilidade dessas lacunas.
Jorge Miranda afirma categoricamente que as lacunas são comuns às Constituições como à ordem jurídica em geral. Não há plenitude de regulamentação sequer na “lei constitucional, costume constitucional, Declaração Universal, outras regras de Direito interno e de Direito internacional no seu conjunto”. As lacunas são, portanto, comuns no sistema, sejam porque queridas ou não, vale dizer, “intencionais e não intencionais, técnicas e teleológicas, originárias e supervenientes – e há mesmo situações extrajurídicas (ou extraconstitucionais), por vezes chamadas de lacunas absolutas – correspondentes, no âmbito constitucional, a situações deixadas à decisão política ou à discricionariedade do legislador ordinário”[2].
Por mais que haja um esforço do legislador por uma estrutura eficaz fechada, “uma unidade de ação e decisão sem lacunas”, se há admitir, pelo menos no campo das leis jurídicas, que isso se traduz em algo um tanto utópico, inatingível, restando a alternativa da aproximação gradual a um sistema completo em si ou fechado, como se queira.
Nessa busca contínua de uma normatização fechada, o que se alcança é o preenchimento gradual das lacunas jurídicas. Na seara do Direito Constitucional, entretanto, isso se torna inalcançável porque “ao lado das lacunas de caráter lógico de valorização, conhecidas também de todas as outras zonas do jurídico”, há ainda “as lacunas absolutas”[3].
Tradicionalmente, as lacunas são de três espécies, intra legem, praeter legem e contra legem. A primeira, intra legem, é a que resulta de uma omissão do legislador, quando a lei prescreve, por exemplo, a elaboração de dispositivos complementares que não foram promulgados. A lacuna praeter legem é caracterizada como a axiológica, criada pelos intérpretes, os quais almejam que certas áreas deveriam ser regidas por uma disposição normativa, quando isso não ocorre expressamente. E a contra legem, que se contrapõe às disposições expressas de lei, é também criada pelos intérpretes que, desejando evitar a aplicação da lei, de certo modo, restringe-lhe o alcance introduzindo um princípio geral que a limita.
De consignar, ainda, a existência de omissões legislativas e de matéria não regulada, circunstâncias que não se confundem com as lacunas. Quando se fala em omissões legislativas, as quais só se devem reconhecer quando não se puder extrair da própria norma constitucional o seu máximo de eficácia, se está a referir a um espaço deixado pela Constituição para ser preenchido pelo legislador infraconstitucional, como são os casos das normas constitucionais não autoexecutáveis. Já a tal matéria não regulada, nada mais é do que uma omissão proposital e desejada pelo constituinte, dentro da sua liberdade de conformação do texto constitucional.
As lacunas constitucionais ocorrem, assim, quando certas matérias que deveriam estar contempladas, ou ter previsão constitucional, não vêm escritas, valendo-se então o intérprete do que se denominou “regras de integração”, tais como a analogia e os princípios gerais do direito.
E essa integração das lacunas
“[…] de normas formalmente constitucionais deve ser feita no interior da Constituição formal e à luz dos valores da Constituição material, sem recurso a normas da legislação ordinária. E os critérios do art. 10º do Código Civil [de Portugal]– recurso à analogia e, na sua falta, à norma que o intérprete criaria se houvesse de legislar dentro do espírito do sistema – aplicam-se pelas mesmas razões por que se aplicam os do art. 9º” [4].
E, continua o mestre de Lisboa, “em última análise, o reconhecimento da existência de lacunas será tanto maior quanto maior for a consciência de que o processo político se encontra submetido ao Direito. Mas um bem melindroso papel cabe à interpretação ao discernir e qualificar, caso a caso, as diferentes situações idóneas, tendo sempre em conta a mutável realidade constitucional”[5].
Referindo-se, ainda, às lacunas, as quais, também afirma não se confundirem com as omissões legislativas, cujo não preenchimento implica inconstitucionalidade por omissão, segue dizendo que aquelas são situações constitucionais não previstas, enquanto as omissões legislativas são previstas, faltando-lhes apenas “as estatuições adequadas a uma plena efetivação das respectivas normas no programa ordenador global da Constituição” [6].
As lacunas, verbera, são reveladas pelos intérpretes e pelos órgãos de aplicação do Direito, que descobrem e determinam a regra de aplicação ao caso concreto, enquanto as omissões legislativas só podem ser verificadas pelos órgãos de fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, o que reconduz à edição de lei de integração pelo legislador, “a não ser que se trate de omissões parciais e seja possível ao tribunal emitir sentenças aditivas”[7].
Como bem destacado por João Varella, “o acesso
do juiz à constituição’ há de compreender não apenas uma dimensão negativa
(inaplicabilidade das normas inconstitucionais), mas também uma dimensão
positiva: interpretação das normas e integração das respectivas lacunas em
conformidade com a Constituição” [8].
[1] Ibidem, p. 334.
[2] Ibidem, p. 334.
[3] Ibidem, p. 335.
[4] Ibidem, p. 336.
[5] Ibidem, p. 336.
[6] Ibidem, p. 336.
[7] Ibidem, p. 336.
[8] HESPANHA, Antônio Manuel; BELEZA, Teresa Pizarro. Teoria da Argumentação e Neoconstitucionalismo: um conjunto. Coimbra:Almedina, 2011, p. 183.